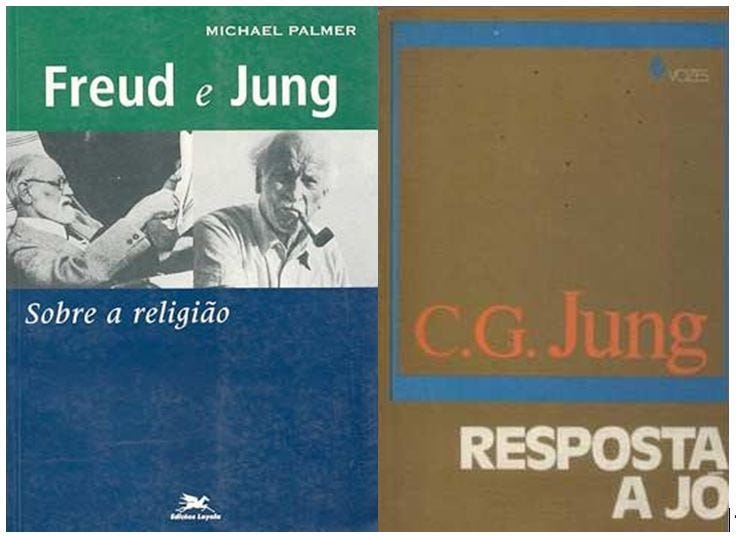“Feliz é quem as musas amam”, escreveu o poeta Hesíodo. Os grandes gregos, como ele, encontraram nessas figuras femininas uma boa tese para explicar o mistério da criação. Na mitologia, elas eram nove. Filhas de Zeus e Mnemósine, a deusa da memória. Conta a lenda que Apolo, em uma tarde qualquer, passeando por Montparnasse com sua flauta, foi seduzido pela visão das nove ninfas saltitantes, cantando, dançando e colhendo flores. Elas também ficaram encantadas com a beleza e a música daquele deus grego. Acompanhadas por Apolo, as talentosas irmãs passaram a se apresentar nas festas do Olimpo e conquistaram a simpatia dos deuses com seu charme e sua leveza.
A cada uma delas foi designado o dom de inspirar uma arte: Tália era a mu-sa da comédia. Clio inspirava a história. Érato, a poesia amorosa. Euterpe, a música. Terpsícore, a dança. Melpômene, a tragédia. Calíope, a poesia épica. Polímnia, a poesia sacra. Urânia, a astronomia. E ai de quem despertasse a ira das musas! Quando desafiadas, elas se tornavam terríveis, capazes de cegar inimigos e arrancar escamas de sereias. Na maior parte do tempo, porém, eram criaturas adoráveis, afinadas e cheias de inspiração para dar. Amantes das águas e das fontes, seu pássaro era o cisne. Seu cavalo, o alado Pégasus, presente de Atenas. Seu templo era o Museion, daí o termo museu. E, não por acaso, a palavra música vem de musa" (p. 23).
Cresci em uma casa extremamente musical. Havia coleções e coleções já organizadas de LPs dos mais variados estilos naquela sala da casa da minha mãe. Elas gostavam de tudo, as minhas irmãs e minha mãe, desde Roberto Carlos até a discoteca dos anos 70, havia raridades em negros bolachões. Muitos desses discos acabaram se perdendo no tempo, mas a formação musical ficou em mim. A influência de Agnaldo Rayol, Nelson Gonçalves, Vinicius, Toquinho e Tom Jobim, por exemplo, está aqui dentro de um acervo de memórias que trago sempre.
Essa influência toda levei ao campo missionário. O que me fez ser muito atento com as produções musicais das mais diversas culturas com as quais trabalhei, e não apenas indígenas! Um dos momentos musicais que mais me marcaram foi quando conhecemos o CTG (Centro de Tradição Gaúcha) de Canarana. Aquilo pregou em mim por tudo o que significava numa cidadezinha de apenas 20.000 habitantes no interior do Estado do Mato Grosso. Eram os encontros das famílias sulistas para eventos culturais de música e poesia próprias. As crianças = meninos e meninas — recitavam poemas enormes para seus pais, famílias e amigos entusiasmados e entusiastas. Coisa linda de se ver, cultura passando de pais para filhos e sobrevivendo naquelas famílias, que se viam em terras distantes e longe de seus ancestrais.
Nem sei como cheguei ao livro “Musas e músicas”, de Rosane Queiroz, mas li suas páginas com gosto e muitíssimo prazer. São as histórias por trás das musas que inspiraram as músicas da MPB. Algumas de amores impossíveis, outras de amores platônicos, adultérios imaginados, outros efetivados. Musas fictícias, outras jamais confessadas. Quem é a Lygia que inspirou Ligia, de Tom Jobim? Como se deram esses encontros e desencontros? Como, digam-me, João Gilberto faz aquela outra letra para a conhecidíssima “Ligia” de Tom Jobim?
São tantas histórias que acabamos passeando pela história do Brasil nas letras de músicas que eu conhecia, mas também de outras que nunca antes ouvira. “Gilda”, música feita para a nona e última esposa de Vinicius de Moraes, eu não conhecia. Assim como me era desconhecida “Risoflora” de Chico Science. “Drão”, de Gilberto Gil, desfez a história errada que eu tinha do que teria sido a inspiração dela.
O livro é um prazer. A gente lê rapidamente, quisesse eu. Mas não quis. A cada música e a cada musa, eu ouvia no youtube as referidas e buscava também as fotos na internet das tais musas para mergulhar nesse universo todo. Um universo todo feminino. Ao terminar o livro, duas constatações: primeiro, ao conhecer os contextos de textos, essas letras e melodias ganham uma camada nova de admiração; segundo, infelizmente, nossa música já foi muito, mas muito melhor do que a produzida. Enquanto lia essas letras e ouvia essas músicas do livro, lembrei-me que o Brasil de Vinicius, Tom Jobim, Belchior, Chico Buarque, Caetano Veloso, Sá e Guarabyra, 14 Bis, Boca Livre… — a lista dos letristas e poetas de nossa MPB não tem fim! — todavia, saber que com tanta referência maravilhosa para os nossos jovens, o Museu da Língua Portuguesa abriu espaço para quem? Anitta e suas letras e músicas! É de corar de vergonha! O Brasil declinou, mas não foi uma mera declinada “à la torre de Piza”, foi uma hecatombe ladeira abaixo com direito à lama na boca e dentes quebrados nessa queda!
Eu tive uma surpresa maravilhosa na leitura do livro. O primeiro texto é da autora, em que ela narra o processo de criação da obra, que nasceu de uma pesquisa de mais de 10 anos! O segundo texto não indica de quem é a autoria, assim, enquanto lia o segundo, achei que seria também dela. O que me levou à surpresa do terceiro texto do livro, pois, quando eu cheguei ao fim, vi que aquele resumo histórico fascinante apresentado ali sobre a “história da musa” era da autoria de Isolda Bourdort. Isolda é autora de músicas lindas como “Outra vez”, Jura secreta” e “Um jeito estúpido de amar”. E é com o último parágrafo desse texto dela que eu termino o meu:
“Nos últimos tempos, a musa não é mais a mesma. Do mito da namorada morna à vulgaridade da cachorra, da popozuda, passando pelos mais diversos papéis, ela conquistou o direito de ser dona do seu pedaço. Mesmo que esse espaço seja tão pequeno que nele só caibam aparelhos de ginástica, potes de cremes antirrugas e anticelulite, roubando a vaga dos filhos e dos livros, mas deixando lugar para muitos espelhos — embora ela mesma não consiga enxergar o que aconteceu ao longo do caminho, para que hoje, tão segura de si, procure fugir exatamente daquilo que por todo esse tempo procurava: essa tal liberdade, que na verdade veste a sua solidão”.
Fábio Ribas
PS — Gente, e aquela história com a música “Marina morena”, que quase acaba em morte? rsrsrsrs